
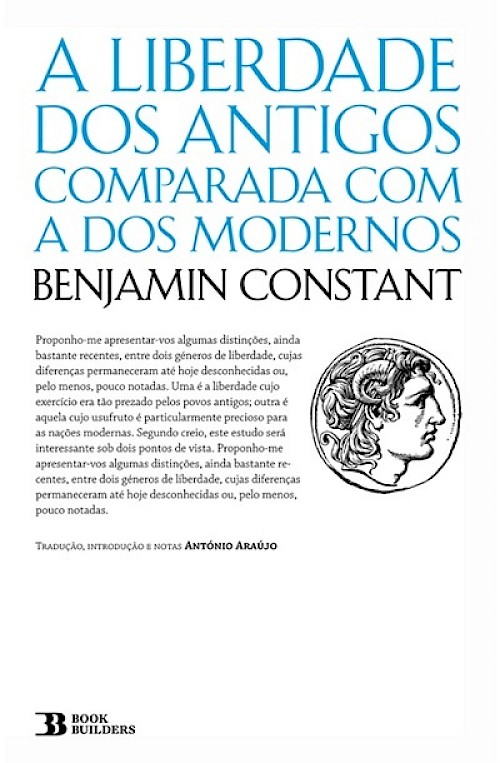
A Liberdade dos Antigos comparada com a dos Modernos (Excertos)
Liberalismo e Capitalismo, Clássicos, Excertos e Ensaios, Filosofia Política, Direito e Instituições, Direitos Civis e Privacidade
Meus Senhores
Proponho-me apresentar-vos algumas distinções, ainda bastante recentes, entre dois géneros de liberdade, cujas diferenças permaneceram até hoje desconhecidas ou, pelo menos, pouco notadas. Uma é a liberdade cujo exercício era tão prezado pelos povos antigos; outra é aquela cujo usufruto é particularmente precioso para as nações modernas. Segundo creio, este estudo será interessante sob dois pontos de vista.
Em primeiro lugar, a confusão entre estas duas espécies de liberdade foi, entre nós, a causa de muitos dos males que ocorreram durante os períodos demasiado célebres da nossa revolução. A França cansou-se de ensaios inúteis, cujos autores, irritados pelo seu fraco sucesso, tentaram obrigá-la a fruir de bens que não deseja, do mesmo passo que questionaram os bens a que ela aspira.
Em segundo lugar, chamados pela nossa feliz revolução (apelido-a de «feliz», apesar dos excessos cometidos, pois tenho em vista apenas os seus resultados) a gozar os benefícios de um governo representativo, é curioso e útil indagar por que motivo este tipo de governo – o único ao abrigo do qual podemos encontrar hoje em dia alguma liberdade e alguma paz – foi praticamente desconhecido pelas nações livres da Antiguidade.
(...)
Este sistema é uma descoberta dos modernos e como vereis, Meus Senhores, o estado da espécie humana na Antiguidade não permitia que uma instituição deste tipo fosse introduzida e se desenvolvesse. Os povos antigos não sentiam necessidade dela, nem eram capazes de usufruir das suas vantagens. A sua organização social levava-os a desejarem uma liberdade bastante diferente da que aquele sistema assegura.
É essa verdade que a conferência desta noite visa demonstrar.
Comecem por se interrogar, Meus Senhores, sobre aquilo que, nos nossos dias, significa para um inglês, um francês ou um habitante dos Estados Unidos da América a palavra liberdade.
É o direito de cada qual ser sujeito apenas às leis, de não poder ser detido, encarcerado ou condenado à morte, nem ser maltratado de qualquer forma por efeito da vontade arbitrária de um ou vários indivíduos. É o direito de cada qual exprimir a sua opinião, escolher e exercer a sua actividade, dispor da sua propriedade, mesmo de abusar dela; de ir e vir sem necessidade de uma autorização ou sem necessidade de indicar os motivos das suas deslocações. É o direito de cada qual se reunir com outros indivíduos, para tratar de interesses comuns, para professar o culto que desejam ou simplesmente para passar os dias e as horas da maneira mais adequada às suas inclinações ou fantasias. Enfim, é o direito de cada qual influir na administração do governo, seja pela designação de todos ou de alguns funcionários, seja pela apresentação de representações, de petições, de requerimentos que as autoridades são mais ou menos obrigadas a considerar.
Comparemos agora esta liberdade com a dos antigos.
Esta última consistia num exercício colectivo, mas directo, de diversas facetas da soberania no seu todo, em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz ou sobre a conclusão de tratados de aliança com países estrangeiros, em votar as leis, em proceder a julgamentos, em examinar as contas, os actos, a gestão dos magistrados, em fazê-los comparecer perante todo o povo, em acusá-los, em condená-los ou absolvê-los. Mas, ao mesmo tempo que os antigos a apelidavam de liberdade, entendiam ser compatível com esta liberdade colectiva a sujeição completa do indivíduo à autoridade do conjunto. Não encontram entre eles praticamente nenhum dos direitos que, como vimos, integram a liberdade dos modernos. Todas as acções privadas estão sujeitas a uma vigilância severa. Nada é deixado à independência individual, quer no que respeita à expressão de opiniões, quer no que respeita à escolha de actividade, quer sobretudo no que respeita à religião. A faculdade de escolher a sua própria religião, que concebemos como um dos direitos mais preciosos, pareceria aos antigos um crime e um sacrilégio. Em tudo o que nos parece mais útil e importante, a autoridade do corpo social interpunha-se e constrangia a vontade dos indivíduos. Entre os Espartanos, Terpandro não podia acrescentar uma corda à sua lira sem que os éforos se chocassem. Mesmo no âmbito das relações mais domésticas, as autoridades não deixavam de interferir. Em Roma, os olhos dos censores perscrutavam o interior das famílias. As leis regulavam os costumes e, como os costumes dizem respeito a tudo, não havia nada que as leis não regulassem.
Assim, entre os antigos, o indivíduo, quase sempre soberano nos assuntos públicos, era um escravo em todos os seus assuntos privados. Como cidadão, decidia a paz e a guerra; como particular, estava limitado e era observado e reprimido em todos os seus movimentos. Enquanto parcela do corpo colectivo, interrogava, destituía, condenava, confiscava, exilava, punia com a morte os seus magistrados ou os seus superiores; mas, enquanto sujeito ao corpo colectivo, podia ser privado do seu estado, esbulhado das suas honras, banido ou condenado à morte pela vontade discricionária do conjunto de que fazia parte. Entre os modernos, pelo contrário, o indivíduo, independente na sua vida privada, só é, mesmo nos Estados mais livres, soberano na aparência. A sua soberania é restringida e quase todos os dias suspensa. Mesmo quando nas ocasiões fixadas – mas raras – em que exerce a sua soberania de um modo eivado de precauções e entraves, fá-lo apenas para abdicar dela.
(...)
Iremos agora regressar à causa desta diferença essencial entre nós e os antigos.
Todas as repúblicas antigas estavam encerradas em limites muito estreitos. A mais populosa, a mais poderosa, a mais importante delas não se comparava em extensão ao mais pequeno dos Estados modernos. Como consequência inevitável da sua reduzida dimensão, estas repúblicas possuíam um espírito belicoso: os povos agrediam constantemente os seus vizinhos ou eram agredidos por eles. A necessidade atirava-os, assim, uns contra os outros, levando-os a combaterem ou a ameaçarem-se incessantemente. Mesmo os que não queriam ser conquistadores não podiam depor as armas, sob pena de serem conquistados. Todos compravam a sua segurança, a sua independência, enfim, toda a sua existência, pagando o preço da guerra. Ela era o interesse constante, a ocupação habitual dos Estados livres da Antiguidade. Finalmente – e também como resultado necessário desta maneira de ser –, todos os Estados possuíam escravos. As profissões mecânicas (e mesmo, em certas nações, as profissões industriais) eram confiadas a mãos carregadas de ferros.
O mundo moderno oferece-nos um panorama completamente diferente. Os mais pequenos Estados dos nossos dias são incomparavelmente mais vastos do que Esparta ou Roma durante cinco séculos. Mesmo a divisão da Europa em diversos Estados é, graças ao progresso das Luzes, mais aparente do que real. Enquanto no passado cada povo formava uma família isolada, inimiga de outras famílias, actualmente existe uma massa de homens que, apesar de possuir diversos nomes e diversas formas de organização social, tem uma natureza homogénea. Ela é suficientemente forte para nada ter a temer de hordas bárbaras. É suficientemente esclarecida para não enveredar pela guerra. A sua tendência vai uniformemente no sentido da paz.
Esta diferença conduz a outra. A guerra é anterior ao comércio, visto que a guerra e o comércio mais não são do que dois meios diferentes de perseguir o mesmo fim: obter o que se deseja. O comércio não é mais do que uma homenagem prestada à força do possuidor pelo aspirante à posse. É uma tentativa de obter de bom grado aquilo que já se não pretende conquistar pela violência. Um homem que fosse sempre o mais forte jamais teria a ideia de comércio. A experiência demonstra-lhe que a guerra – isto é, o emprego da sua força contra a força de outrem – o expõe a diversas resistências e perigos, levando-o a recorrer ao comércio, ou seja, a um meio mais suave e seguro de comprometer o interesse do outro naquilo que convém ao seu próprio interesse. A guerra nasce do impulso, o comércio do cálculo. Por isso, existirá uma época onde o comércio substituirá a guerra. Acabámos de chegar a essa época.
(...)
As nações querem tranquilidade; com ela, o bem-estar e, com o bem-estar, a indústria. A guerra é um meio cada vez mais ineficaz para alcançarem os seus objectivos. As oportunidades que cria não são, nem para os indivíduos, nem para as nações, comparáveis aos benefícios que resultam do trabalho sem sobressaltos e das trocas regulares. Entre os antigos, uma guerra vitoriosa aumentava em escravos, tributos e terras a riqueza pública e particular. Entre os modernos, uma guerra vitoriosa custa infalivelmente mais do que vale.
Por fim, graças ao comércio, à religião, aos progressos intelectuais e morais da espécie humana, não existem mais escravos nas nações europeias. Homens livres devem exercer todas as profissões, satisfazer todas as necessidades da sociedade.
Pressente-se naturalmente, Meus Senhores, o resultado necessário destas diferenças.
Em primeiro lugar, a extensão de um país terá uma importância política tanto mais reduzida quanto maior for a importância que, em contrapartida, se atribui a cada indivíduo. Um republicano mais obscuro de Roma ou de Esparta era, em si mesmo, uma potência. Não acontece o mesmo com um simples cidadão da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos. A sua influência pessoal é um elemento imperceptível da vontade social que imprime ao governo a sua direcção.
Em segundo lugar, a abolição da escravatura retirou à população livre o tempo disponível que resultava da circunstância de os escravos se ocuparem da maioria dos trabalhos. Sem a população escrava de Atenas, os vinte mil atenienses não poderiam deliberar todos
os dias na praça pública.
Em terceiro lugar, o comércio, ao contrário da guerra, não cria intervalos de inactividade. O exercício incessante dos direitos políticos, a discussão diária das questões de Estado, as dissensões, os conciliábulos, todo o cortejo e movimento das facções, as agitações necessárias, os lugares-comuns do costume (se posso usar esta expressão) na vida dos povos da Antiguidade, que sem eles acabariam por adormecer numa inactividade dolorosa, apenas criariam problemas e fadigas às nações modernas, onde cada indivíduo está ocupado nas suas especulações, nas suas actividades, no bem-estar que obtém ou espera obter e, por isso, só aceita ser constrangido momentaneamente e no mínimo possível.
Por último, o comércio inspira nos homens um vivo amor pela independência individual. O comércio provê as suas necessidades e satisfaz os seus desejos sem a intervenção de qualquer autoridade. Essa intervenção é quase sempre – e nem sei porque digo «quase»; melhor dizendo, essa intervenção é sempre um transtorno e um estorvo. Sempre que o poder colectivo se quer intrometer nos negócios particulares, ofende os negociantes. Sempre que o governo quer fazer os nossos negócios, fá-lo pior e mais dispendiosamente do que nós.
(...)
Da minha exposição resulta, pois, que não podemos mais desfrutar a liberdade dos antigos, que correspondia a uma participação activa e constante no poder colectivo. A nossa liberdade deve corresponder ao gozo tranquilo da independência privada. Na Antiguidade, a participação de cada indivíduo na soberania nacional não era, como nos nossos dias, uma hipótese abstracta. A vontade de cada um tinha uma influência real; o exercício dessa vontade era uma satisfação viva e repetida. Como tal, os antigos estavam dispostos a fazer grandes sacrifícios para conservarem os seus direitos políticos e a sua participação na administração do Estado. Cada qual, ao sentir com orgulho o valor do seu sufrágio, encontrava na consciência da sua importância pessoal uma profunda recompensa.
Actualmente, tal recompensa já não existe para nós. Perdido na multidão, o indivíduo quase nunca se apercebe da influência que possui: a sua vontade não deixa marcas sobre o conjunto, nem vê com os próprios olhos o resultado da sua cooperação. O exercício dos direitos políticos não nos oferece mais do que uma pequena parcela da satisfação que dele retiravam os antigos; ao mesmo tempo, os progressos da civilização, a tendência comercial da nossa época, a comunicação recíproca dos povos, multiplicam até ao infinito os meios de satisfação particular.
Daqui resulta que devemos ligar-nos, mais do que os antigos, à nossa independência pessoal; de facto, os antigos, ao sacrificarem essa independência aos direitos políticos, sacrificavam menos para obter mais; ao passo que, se fizéssemos um sacrifício idêntico, estaríamos a sacrificar mais para obter menos.
O objectivo dos antigos era a partilha do poder social entre todos os cidadãos da mesma pátria; era a isso que chamavam liberdade. O objectivo dos modernos é a segurança do seu bem-estar privado; e chamam liberdade às garantias que as instituições concedem a esse bem-estar.
(...)
Os homens que, pelo turbilhão dos acontecimentos, se viram colocados no comando dos destinos da nossa revolução estavam, em consequência necessária da educação que receberam, profundamente imbuídos das opiniões antigas, agora consideradas falsas, que haviam consagrado os filósofos de que falei. A metafísica de Rousseau, no seio da qual surgiam repentinamente como clarões verdades sublimes e trechos de uma eloquência arrebatadora, a austeridade de Mably, a sua intolerância, a sua raiva contra todas as paixões humanas, a sua avidez em dominar toda a gente, os seus princípios radicais sobre a competência da lei, a diferença entre aquilo que aconselhava e o que realmente tinha existido no passado, as suas invectivas contra as riquezas e mesmo contra a propriedade, tudo isto deveria encantar homens inflamados por uma vitória recente, que, na qualidade de conquistadores do poder legislativo, gostariam de estendê-lo a todos e quaisquer objectos. Era-lhes preciosa a autoridade dos dois autores que, desinteressadamente e lançando um anátema sobre o despotismo dos homens, converteram em axioma o texto da lei. Pretendiam exercer a força pública à semelhança daquilo que, segundo os guias que os ensinaram, sucedia outrora nos Estados livres. Julgavam que tudo deveria continuar a ceder perante a vontade colectiva e que todas as restrições aos direitos individuais seriam amplamente compensadas pela participação no poder social.
(...)
Na verdade, o poder social lesou em todos os sentidos a independência individual sem conseguir apagar a necessidade dela. A nação não considerava, de modo algum, que uma parcela ideal de uma soberania abstracta podia valer os sacrifícios que lhe eram pedidos. Em vão lhe repetiam com Rousseau: as leis da liberdade são mil vezes mais austeras do que o duro jugo dos tiranos. Não queria leis austeras e, na sua lassidão, julgava por vezes que o jugo dos tiranos seria preferível. A experiência posterior desenganou-a. Viu que o arbítrio dos homens era ainda pior do que as piores leis. Mas as leis devem ter também os seus limites.
Se consegui, Meus Senhores, que partilhem esta ideia, não deixareis de reconhecer comigo a veracidade dos seguintes princípios:
A independência individual constitui a primeira necessidade dos modernos; por isso, não se deve jamais pedir o seu sacrifício para estabelecer a liberdade política.
Daqui resulta que, nos tempos modernos, não se deve admitir nenhuma das numerosas e demasiado louvadas instituições que, nas repúblicas antigas, constrangiam a liberdade individual.
(...)
Devemos desconfiar, Meus Senhores, desta admiração por certas reminiscências antigas. Uma vez que vivemos nos tempos modernos, pretendo uma liberdade adequada aos tempos modernos; e, uma vez que vivemos numa monarquia, suplico humildemente às monarquias que não peçam de empréstimo às repúblicas antigas os instrumentos para nos oprimir.
A liberdade individual, repito-o, é a verdadeira liberdade moderna. A liberdade política é a sua garantia; a liberdade política é, em consequência, indispensável. Mas exigir aos povos dos nossos dias que, como os de outrora, sacrifiquem a totalidade da sua liberdade individual à liberdade política, será o caminho mais fácil para lhes retirar uma dessas liberdades e, quando isso suceder, a outra não tardará também a ser usurpada.
(...)
O poder deve, pois, resignar-se; necessitamos de liberdade e, por isso, tê-la-emos. Mas como a liberdade de que necessitamos é diferente da dos antigos, requer uma forma de organização distinta da que convinha à liberdade antiga; nesta última, quanto mais os homens se consagravam ao exercício dos seus direitos políticos, mais se julgavam livres; actualmente, quanto mais o exercício dos direitos políticos nos deixar tempo para os nossos interesses privados, mais a liberdade nos será preciosa.
Aqui emerge, Meus Senhores, a necessidade do sistema representativo. O sistema representativo não é mais do que uma organização com o auxílio da qual uma nação delega em certos indivíduos aquilo que não quer ou não pode fazer por si própria. Os indivíduos pobres realizam directamente os seus negócios; os ricos servem-se de administradores. É esta a história das nações antigas e das nações modernas. O sistema representativo é uma procuração conferida a um certo número de indivíduos pela massa do povo, que quer que os seus interesses sejam defendidos, mas que não tem tempo para os defender. No entanto, salvo se forem insensatos, as pessoas ricas que têm administradores não deixam de vigiar com atenção e rigor se estes cumprem os seus deveres, se são negligentes, corruptíveis ou incapazes. Para melhor avaliarem a gestão dos mandatários, os mandantes sensatos acompanham os negócios que confiam aos seus administradores. De igual modo, os povos que, com o objectivo de melhor gozarem a liberdade que lhes convém, recorrem ao sistema representativo, devem exercer uma fiscalização activa e constante dos seus representantes, reservando-se, em períodos não muito dilatados no tempo, o direito de os afastarem se não cumpriram as suas promessas ou o direito de revogarem as prerrogativas de que tenham abusado.
A circunstância de a liberdade moderna se distinguir da liberdade antiga faz também que esta esteja ameaçada por perigos de natureza diversa.
O perigo da liberdade moderna resulta da circunstância de, por estarmos exclusivamente absorvidos no gozo da nossa independência privada e na prossecução dos nossos interesses particulares, renunciarmos facilmente ao nosso direito de participação no poder político.
Os depositários da autoridade não cessam de nos exortar a isso. Estão completamente dispostos a poupar-nos a todos os esforços, excepto o de obedecer e o de pagar! Dir-nos-ão: qual é, no fundo, a finalidade dos vossos esforços, o motivo dos vossos trabalhos, o objecto de todas as vossas esperanças? Não é a felicidade? Pois bem, a felicidade, se nos deixarem, ser-vos-á concedida. Não, Senhores, não deixemos que isto aconteça. Por muito comovente que possa ser um interesse assim tão terno, roguemos à autoridade que se mantenha dentro dos seus limites; que se cinja a ser justa. Nós próprios nos encarregaremos de ser felizes.
Poderíamos ser felizes através do bem-estar se esse bem-estar estivesse separado das garantias? E onde encontraremos tais garantias se renunciarmos à liberdade política? Renunciar à liberdade, Senhores, seria uma insensatez semelhante à daquele indivíduo que, sob o pretexto de que só queria habitar num primeiro andar, pretendesse construir na areia um edifício sem fundações.
Aliás, Meus Senhores, será a felicidade, seja qual for o seu género, o fim exclusivo da espécie humana? Nesse caso, o nosso caminho seria estreito e o nosso destino pouco nobre. Não há um único de entre nós que, se quisesse degradar-se, reduzir as suas faculdades morais, rebaixar os seus desejos, renunciar à autoridade, à glória, às emoções generosas e profundas, não conseguisse embrutecer e ser feliz. Não, Meus Senhores, apelo para a melhor faceta da nossa natureza, esta nobre inquietude que nos persegue e nos atormenta, este ardor de estender as nossas luzes e de desenvolver as nossas faculdades; não é apenas à felicidade, mas também ao aperfeiçoamento, que o nosso destino nos chama; e a liberdade política é o mais poderoso, o mais enérgico meio de aperfeiçoamento que o Céu nos concedeu.
(...)
Assim, Meus Senhores, ao invés de renunciar a alguma das duas espécies de liberdade de que vos falei, é necessário, como demonstrei, aprender a combiná-las. As instituições, como diz o célebre autor da História das Repúblicas da Idade Média, devem realizar os destinos da espécie humana; atingirão tanto melhor os seus objectivos quanto elevarem o maior número possível de cidadãos à mais alta dignidade moral.
A obra do legislador só estará completamente terminada quando alcançar a tranquilidade do povo. Mesmo depois de o povo estar satisfeito, muito há ainda a fazer. É necessário que as instituições realizem a educação moral dos cidadãos. Respeitando os seus direitos individuais, cuidando da sua independência, não interferindo nos seus afazeres, as instituições devem consagrar a influência dos cidadãos na coisa pública, apelando para que concorram, pelas suas determinações e pelo seu sufrágio, no exercício do poder, garantindo-lhes um direito de controlo e fiscalização através da manifestação das suas opiniões, educando-os pela prática no exercício dessas nobres funções, dando-lhes, ao mesmo tempo, o desejo e a faculdade de as desempenharem de forma correcta.
Excertos do célebre discurso Da Liberdade dos Antigos Comparada com a dos Modernos (1819), do pensador franco-suíço Benjamin Constant (1767-1830).
A presente tradução de António Araújo encontra-se publicada (com introdução e notas) pela editora Bookbuilders, a quem agradecemos a gentil permissão para a inclusão destes excertos na nossa Biblioteca.
Seleção de excertos: Pedro Almeida Jorge.
Uma tradução inglesa, com introdução de Ralph Raico, pode ser consultada aqui.
Instituto +Liberdade
Em defesa da democracia-liberal.
info@maisliberdade.pt
+351 936 626 166
© Copyright 2021-2025 Instituto Mais Liberdade - Todos os direitos reservados

 About Us
About Us