
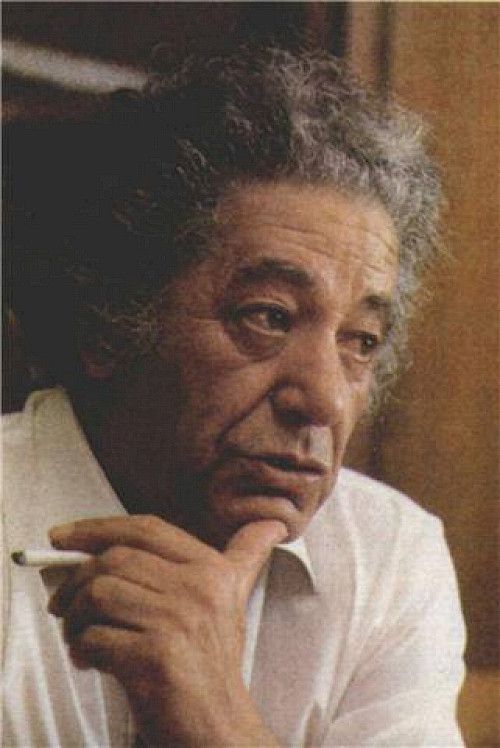
Razão e Louvor da Propriedade
Economia, Socialismo e Comunismo, Autores Portugueses, Excertos e Ensaios, Filosofia Política, Direito e Instituições, Liberalismo e Capitalismo
1. O MEDO DE FALAR DA PROPRIEDADE
Os portugueses já têm todos os elementos para não se deixarem iludir. O nó do problema é a propriedade. O nó do problema, o gatilho da pistola, o que une e o que divide as forças que neste momento e nestes últimos decénios, em Portugal e no mundo, disputam o poder político. Do que se trata, tudo de que se trata, é de decidir entre o reconhecimento da propriedade e a abolição da propriedade.
Socialismo e capitalismo, colectivização, estatização, nacionalização, socialização, autogestão, cooperativismo, iniciativa privada, empresa privada, etc., tudo isso são palavras que, em si mesmas, pouco ou nenhum sentido têm e que, verdadeiramente, só designam uma de duas coisas: ou se quer continuar a reconhecer a propriedade ou se quer a abolição da propriedade.
De um lado e do outro há, todavia, má consciência. Má consciência que se revela no receio de empregar a palavra propriedade. Os que, de um lado, querem que se reconheça a propriedade, receando-se esmagados pelo socialismo triunfalista que não sabem refutar, substituem a palavra certa por eufemismos como «iniciativa privada». Os que, do outro lado, querem abolir a propriedade, vendo-se incapazes de pensar essa abolição em todas as suas consequências, substituem a palavra certa por outros eufemismos: colectivização, estatização, etc. No meio, ficam os ainda mais hesitantes e impotentes, misturando, em suas estreitas cabeças, todo o género de combinações inviáveis na esperança de conciliarem a existência «reaccionária» da propriedade com a abolição «progressista» da propriedade: são os que, sempre sem dizerem a palavra própria, falam do socialismo que ainda não é comunismo e se entontecem a fazer Institutos António Sérgio para explicarem a si mesmos o que sejam coisas como colectivização, cooperativismo, autogestão, etc.
Com tantos e tais receios, com tantas e tais combinações vazias, com tantas e tais palavras sem sentido, nunca mais nos entendemos. Deixem-se, pois, de recorrer a palavras que pouco ou nada significam, deixem-se de utilizar eufemismos enganadores e hipócritas, deixem-se de ser gente que não sabe o que diz e quer dizer o que não sabe. Encarem a realidade de frente, encarem-se a vós mesmos de frente e empreguem as palavras próprias. Não tenham medo de dizer que tudo consiste em ser a favor ou contra a propriedade.
2. ABOLIDA A PROPRIEDADE, QUE FARÃO OS COMUNISTAS?
A abolição da propriedade é o que sempre definiu o antiquíssimo comunismo. Poderão os comunistas falar de meios de produção, de lutas de classes, de proletariado escravizado, de burgueses e de mais-valia. Poderão até recorrer a metáforas de origem homossexual como a da «exploração do homem pelo homem». Do que exclusivamente se trata é de abolir a propriedade. Abolida a propriedade, o comunismo atinge a única finalidade que lhe é própria; e que é também, simultaneamente, o seu ponto de partida. Ponto de partida para quê, para onde, ninguém sabe. O seu patrono moderno, Carlos Marx, encolerizava-se quando lhe perguntavam o que se iria fazer depois de abolida a propriedade. Não sabia. Encolerizava-se e respondia: «Eu não faço receitas de cozinha».
É fácil organizar o combate pela abolição da propriedade. Ao longo da história, muitas vezes o combate se travou e muitas vezes, até, saiu vitorioso: na Esparta de Licurgo, na Morávia dos anabaptistas, no Paraguai dos Jesuítas, na Rússia dos bolchevistas... Mas, abolida a propriedade, os homens continuam a estar no mundo; continua a haver, de um lado, os homens e, de outro lado, as coisas de que é feito o mundo. Os homens não podem viver sem o mundo e a existência no mundo é uma existência de relação com as coisas. A propriedade é, precisamente, esta relação. Abolida a propriedade, que acontece? Deixa de haver mundo e as coisas que compõem o mundo? Impossível. Deixa de haver homens? Impossível. Passam os homens a viver separados do mundo? Não podem. Qual a receita que Marx se recusava a fazer? A única que os diversos cozinheiros conseguiram fazer – e a única que os comunistas, antes e depois de Marx, conseguiram fazer – foi a de passarem para o Estado a posse (com a qual confundem a propriedade) das coisas. Ora, o próprio Marx já havia prevenido que essa não era solução, e claramente afirmou que transferir a propriedade para o Estado seria um mal pior do que manter a propriedade nos indivíduos. Com efeito, os resultados da estatização sempre estiveram longe de ser risonhos: massacre de milhões de homens, escravidão generalizada e até instituída, etc. E se não se pode dizer que, em rigor, tenham sido uma «estatização da propriedade» todos os diversos regimes comunistas que houve ao longo da história – alguns deles bem mais duradouros do que os marxistas actuais – também de nenhum deles se pode dizer que foi risonho: o dos espartanos foi a vergonha do «milagre grego»; o dos anabaptistas evanesceu-se no caos; o de Münster evanesceu-se na sangueira; o do Paraguai levou, em duzentos anos, um pobre povo à idiotia...
Ainda temos, todavia, de admitir que o comunismo não seja necessariamente um absurdo? Mas como, então, resolver? Como «receitar»? Como «cozinhar» as relações entre os homens e o mundo, uma vez abolida a propriedade?
3. O COMUNISMO É A MAIS ANTIGA DOUTRINA POLÍTICA DA HISTÓRIA
Comprazem-se os comunistas em pensar, por ingenuidade, por ignorância e por progressismo, que o comunismo é a mais moderna das doutrinas, a última, se não derradeira, expressão daquele «progresso» de que julgam ser feita a história. Por muito que nos custe decepcioná-los, a verdade é que o comunismo é, pelo contrário, uma constante da história, a mais antiga e a mais inalterada das doutrinas, aquela que imediatamente surge, logo que um povo se organiza em Estado, nas camadas da população que, na linguagem de hoje, se designa por «as classes mais desfavorecidas».
Em sua antiquíssima tradição, o comunismo tem-se apresentado nas mais diferentes versões: foi uma teoria do Estado com Licurgo, foi uma doutrina moral com os anabaptistas, foi uma teoria da tirania com os de Münster, foi uma doutrina religiosa com os Jesuítas... Na sua versão marxista contemporânea, é um sistema económico.
Em qualquer destas versões, o comunismo manteve-se inalteravelmente o mesmo. Consistiu sempre na negação, condenação e abolição da propriedade.
A versão contemporânea é, pois, uma versão economista. Não nega a propriedade por ver nela, como na versão espartana, um poder contrário às finalidades do Estado. Não a condena por lhe atribuir, como nas versões religiosas, poderes contrários aos mandamentos divinos. Nega-a e condena-a como categoria económica, aquela que dá origem à existência de classes, à distinção entre pobres e ricos, à exploração dos homens pelos homens. Nem a religião nem o Estado terão nada a ver com isto. Muito ao contrário: o erro das outras versões do comunismo terá consistido em atribuir-se-lhe razões religiosas e jurídicas, pois – vistas as coisas a partir da economia – a religião e o direito apenas existem para «cobrir», «super-estruturar» a existência da propriedade. Abolida a propriedade, ficarão também abolidos o direito e a religião.
Entende-se por «categorias económicas» aqueles sucessivos «momentos» que compõem o ciclo de satisfação das carências humanas.[1] São seis esses momentos; e a propriedade constitui, precisamente, a primeira categoria, aquela a partir da qual o ciclo se desenvolve e as outras categorias se vão deduzindo, sucedendo e articulando. Dela se deduz imediatamente a categoria da fruição, isto é, a categoria que torna necessária, ao homem que dela tem propriedade, a posse da coisa, seja na forma de satisfação da natural exigência de actividade, seja na forma de prolongamento da personalidade, seja nas formas de carácter ético que já os antigos gregos definiram. Nesta categoria se inclui o sentido que possa ter o eufemismo que designa a propriedade por «iniciativa privada».
Também imediatamente se liga à propriedade a categoria do trabalho; assim como a fruição designa o que o homem recebe da coisa, assim o trabalho designa aquilo que o homem dá à propriedade que tem. Da conjugação destas três categorias resulta a categoria dos produtos, os quais, sujeitos à lei da oferta e da procura, têm simultaneamente um valor de troca e de uso; este valor adquire um preço, ou seja, uma expressão que é universal por resultar da totalidade de produtos de cada género produzidos no mundo e por dar a todos os homens o sentido concreto de como é complementar a actividade de cada um, o sentido da solidariedade humana. O preço fornece também à indicação de quais os produtos de que há carência e que deverão portanto ser produzidos no próximo ciclo económico. Este exercício da lei da oferta e da procura, com a determinação do valor e do preço e a caracterização do próximo ciclo económico, constitui a categoria do mercado.
A última categoria, resultante do mercado, é a do dinheiro. É a categoria na qual todo o processo de um ciclo de necessidade se traduz em instrumento de liberdade. Com efeito, sendo o dinheiro o que é susceptível de se trocar por toda a infinita variedade de coisas que há no mundo, é um instrumento de liberdade. Marca o final de cada ciclo. Atingido ele, um novo ciclo se inicia com o retorno à categoria permanente, substancial e original, a propriedade.
Inseridas desde sempre na existência organizada ou civilizada dos homens, pensadas e sistematizadas desde a mais remota antiguidade, as categorias económicas são a mesma realidade da actividade dos homens nas iniludíveis condições de necessidade e carência em que eles se encontram no mundo. Com o industrialismo e a filosofia moderna, foram as categorias sujeitas à crítica dos economistas clássicos ingleses. Os produtos industriais afiguraram-se-lhes capazes, segundo a convicção generalizada na época, de substituir os produtos de que os homens naturalmente carecem, e de tal modo a indústria se desenvolveu nessa ilusão que, em nossos dias, se juntam às carências naturais dos homens, e tão fortes como elas nos hábitos da vida, as carências fictícias que vulgarmente se designam por «exigências de consumo» ou «sociedade de consumo».
Foi sobre tal situação que os economistas «clássicos» puderam dar alguma verosimilhança à sua crítica das categorias económicas. Ao tomar por modelo a actividade industrial, o que essa crítica considerava era um tipo de produção no qual, por um lado, a produção se realiza com uma regularidade incessante que permite determinar o valor dos produtos sem recorrer à categoria do mercado e no qual, por outro lado, os produtos, ultrapassada a fase da obtenção da «matéria-prima» e da inventiva científica, resultam só do trabalho. Anulava-se deste modo a categoria da propriedade como categoria original da produção, pois os produtos, combinando-se entre si como máquinas ou fábricas, são a origem de novos produtos. Anulada a propriedade, ficaria anulada a fruição, e o mercado, com a lei universal da oferta e da procura, tornar-se-ia desnecessário devido às novas possibilidades de determinar o valor. O dinheiro, resultado do mercado e instrumento da liberdade, seria uma excrescência. Toda a actividade económica e, mais do que isso, toda a acção humana, passaria a ter como fim único alimentar a «força de trabalho» e o trabalho destinar-se-ia exclusivamente a produzir. O homem passaria a ser um «animal social» cujo destino seria trabalhar para produzir e produzir para trabalhar.
Foi numa tal concepção da economia industrial que o comunismo fundou a sua contemporânea versão económica ou marxista. O seu absurdo tornava-se patente logo que se verificava que nem os produtos industriais satisfazem as carências naturais de que o homem se não pode desprender nem a crítica das categorias económicas tem qualquer validade real ou simples verosimilhança fora dos limites da indústria. A «cientificidade» que, recorrendo aos economistas «clássicos» ingleses, o comunismo pretendeu atribuir à abolição da propriedade, tornava-se assim vazia de sentido. E é preciso observar ainda que, em momento algum, os economistas clássicos deram por definitivos os esboços de sistematização que elaboraram. O marxismo é que os tomou por definitivos e lhes atribuiu o que nenhum dos seus autores deles fizera: a negação das categorias económicas. Triunfalista, Engels, num escrito sobre a morte de Marx, proclamava que a obra dele consistira na «crítica – no sentido de refutação – das categorias económicas». Outros comunistas de maior seriedade científica, como Proud'hon, nunca o proclamaram.
Entretanto, a economia abandonava as vias frustradas dos economistas clássicos em que a si mesma se designou por «economia política», para restabelecer o seu carácter científico, para se restabelecer como ciência económica. Abandonava a crítica das categorias para antes procurar a razão delas e as compreender. Tal restabelecimento incidiu, sobretudo, na verificação de que o mercado constitui o único instrumento para a conjugação colectiva ou universal da actividade produtiva de cada homem e a única medida para orientar a actividade económica comum. Onde os comunistas, abolidas as categorias, põem o planeamento económico, a economia científica demonstra que, sem as determinações reais que só o mercado pode fornecer, o planeamento equivale à total irracionalização e lançará no caos toda a actividade produtiva. Mas a consequência, quase imediata, da abolição das categorias não seria apenas o caos económico; seria também a escravização dos homens que, para adiar ou encobrir esse caos, constituiria a única via aberta à acção dos governos e dos políticos. O planeamento é já uma das formas de tal escravização.
Tais conclusões são as conclusões da ciência económica já em nossos dias restabelecida, com especial relevo para a escola austríaca de B. Bawerk, Ludwig von Mises e F. Hayek. De von Mises é a demonstração da irracionalidade a que a economia fica entregue, uma vez abolida a categoria do mercado. De F. Hayek é a demonstração de que o socialismo constitui o «caminho para a servidão» (título de um seu livro publicado originalmente em inglês há trinta anos e só agora reeditado). De B. Bawerk é a justificação do capital e, a partir do capital, da propriedade.
Claro está que todos estes resultados da mais recente ciência económica são pelos comunistas, e socialistas em geral, repudiados com grande fervor ideológico e nenhum rigor científico. E quando, nos dias que correm, já se não pode manter sobre eles o silêncio que durante longos anos se conseguiu manter, o fervor ideológico envolve de insultos e apupos a entrega dos últimos prémios Nobel de economia a F. Hayek e a M. Friedman. O comunismo abandona assim o verniz da «cientificidade» com que durante este último século se abrilhantou e recolhe-se à nudez brutal da única finalidade que possui, sejam quais forem – religiosas, jurídicas, morais, economistas – as versões em que se apresenta: o que é preciso é abolir a propriedade. E não tenhamos ilusões: sempre a abolição da propriedade suscitará, como já dizia Aristóteles, grande entusiasmo entre aquelas camadas da população que compõem, como dizem os nossos parlamentares, «as classes mais desfavorecidas».
4. O CAPITALISMO SAIU DA CABEÇA DE UM GUARDA-LIVROS
É um logro pensar que o capitalismo defende a propriedade. O que o capitalismo defende é o capital, e entre o capital e a propriedade as diferenças são, pelo menos, tão profundas como entre a propriedade e a «colectivização dos meios de produção».
Foram os marxistas que criaram a convicção de que só há dois sistemas económicos (caso, em rigor marxista, não tenhamos de dizer que há apenas um) e de que, de um lado, tudo é comunismo e, do outro lado, tudo é capitalismo.
O capital é, como se sabe ainda, uma rubrica da escrita contabilística e designa o valor atribuído aos meios de que dispõem as empresas industriais para exercer a sua actividade. Fazer de uma rubrica contabilística – o capital – um sistema económico – o capitalismo – e, depois, um sistema de civilização, é coisa que só pode caber na cabeça de um guarda-livros. Certo é, porém, que todo o socialismo é, igualmente, obra de guarda-livros. E como com o socialismo, também com o capitalismo a propriedade pouco ou nada tem a ver: ao contrário do capital, a propriedade é, como vimos, uma relação necessária entre o homem e as coisas do mundo.
Enquanto o capital se esgota numa empresa ou empreendimento de produção, a propriedade é o que é próprio das coisas cuja realidade é independente do homem e existe antes e depois dele. Enquanto o capital tem uma existência fortuita, contingente, a todo o momento suspensa de uma vontade ou de um cálculo que decidem da utilização de um valor de que se dispõe, a propriedade reside nas coisas do mundo e tem, tanto como elas, uma existência eterna. Enquanto o capital é uma posse e um uso, a propriedade, podendo decerto confundir-se com a posse quando estiver sendo objecto de uso, é em si mesma, como coisa do mundo, independente da posse e do uso que dela fizerem. A propriedade é, portanto, uma realidade ou uma noção infinitamente mais vasta do que o capital e com ele é qualitativamente incomparável.
Quando, agora, o velho comunismo vem confundir a propriedade com o capital, a primeira consequência dessa confusão é a de ficar mais uma vez incapaz de atingir o seu objectivo substancial, a abolição da propriedade. E dir-se-á que também o marxismo, responsável por essa confusão, caiu no logro preparado pelos defensores, não diremos do capitalismo, mas da valorização ou dignificação jurídica das empresas industriais.
Com efeito, a rubrica da escrita contabilística que se designa por capital só tem adequada aplicação nas empresas industriais. Ou seja: a rubrica do capital viu-se extremamente empolada com o industrialismo. Fora da indústria, pode dizer-se que a sua aplicação contabilística é, mais do que discutível, artificiosa e falsa. Numa empresa agrícola, por exemplo, o capital apenas pode designar valores insignificantes em relação à propriedade ou à terra. No ciclo das categorias económicas, todo o processo decorrendo entre a categoria inicial da propriedade e a categoria final do dinheiro, o capital não tem lugar. Ora o direito moderno foi sistematizado ao mesmo tempo em que se organizava o industrialismo e, por razões que não importa agora expor, concebeu a propriedade como «a disposição absoluta daquilo que se possui». Os empresários industriais pretenderam então atribuir «àquilo que possuíam» a suprema dignidade jurídica da propriedade e interpretaram o conceito expresso pelo direito moderno como convindo perfeitamente ao capital. O marxismo fundou-se todo nesta interpretação e, depois de se ter feito a versão contemporânea do comunismo, levou o comunismo a errar o seu alvo de sempre, tomando por abolição da propriedade o que apenas é abolição do capital.
5. É PRECISO NACIONALIZAR O TRABALHO
A defesa da propriedade é tanto a defesa contra o comunismo como a defesa contra aquilo que, designado pelos marxistas como capitalismo, é, em rigor, a plutocracia. Se o comunismo tem por objectivo a abolição da propriedade, a plutocracia impede de facto a livre existência da propriedade. E se o objectivo do comunismo nunca foi atingido nem é naturalmente atingível, a plutocracia a todo o momento espreita e periodicamente se efectiva.
Com o industrialismo surgiram em todo o mundo hábitos e condições de vida como nunca houve outras tão propícias, por um lado, à manifestação ou credibilidade do sempre latente comunismo e, por outro lado, à efectivação da, também sempre latente, plutocracia. Tão propícias são essas condições que o poder político do mundo parece estar-se hoje disputando só entre comunistas e plutocratas, entre dois erros, entre dois males.
Dir-se-á, então, que a defesa da propriedade passa pelo abandono do industrialismo.
Acontece, porém, que ao fim de dois séculos, o industrialismo é já irreversível e se tornou necessário – embora se não possa saber por quanto tempo – para satisfazer as condições de vida de que ele próprio é ou causa ou, como elas, resultado de outros poderes e desígnios: o acréscimo insuportável da população, a ameaça de esgotamento dos recursos naturais, a organização imperial dos Estados e povos, a propiciação da plutocracia, a credibilidade do comunismo. Imediatamente, só o industrialismo parece capaz de satisfazer a «sociedade de consumo» que lhe é inerente e, como ele, também irreversível, e de absorver a actividade da grande maioria dos homens que, devido ao aumento vertiginoso da população e à organização imperial dos Estados, não tem lugar no ciclo das categorias económicas.
A grande questão, toda a questão reside – dando de barato o erro do comunismo e o mal da plutocracia – em descobrir maneira de evitar que o industrialismo leve até ao fim a ameaça ou o processo, que lhe é intrínseco, de destruição das categorias económicas cujo ciclo, baseado naturalmente na propriedade, permite, ao ser de necessidade e carência que é o homem no mundo, vencer esse domínio da necessidade a que está sujeito e, satisfazendo suas carências, obter ainda, na categoria do dinheiro, um instrumento de liberdade.
Se considerarmos as soluções propostas pela plutocracia e pelo comunismo, depressa verificamos como é hoje universalmente evidente, tanto pela teoria científica como pela prática política, que nenhuma delas é adequada à natureza, sequer biológica, do homem. Ambos, comunismo e plutocracia, o mostram no espectáculo que oferecem e nas críticas que um ao outro fazem, e se a plutocracia ainda procura manter uma ilusão de liberdade humana e de preservação abstracta, e talvez inconscientemente hipócrita das categorias económicas, o comunismo só pode ser, como com todos os elementos científicos demonstraram Ludwig von Mises e Frederico Hayek, «o caminho para a servidão».
Se preferirmos procurar uma, talvez ainda possível, conciliação entre o ciclo das categorias económicas e o processo da produção industrial, então teremos de retomar a «economia política clássica» que consistiu precisamente, desde Adam Smith até Stuart Mill, na procura dessa conciliação. Estará aí aquilo a que Frederico Hayek chama «a via abandonada», precipitadamente abandonada devido à pressão da plutocracia que logo surgiu e se instalou, do comunismo que também logo explodiu, e da ingénua, ilusória confiança com que os homens acolheram as promessas de abundância universal que o industrialismo lhes fazia.
Retomar a «via abandonada» e prossegui-la até ao fim exigirá decerto um percurso demasiado longo e demorado para o estado de catástrofe próxima ou para as condições de vida dia a dia mais insuportáveis em que a humanidade se encontra. Impor-se-á, portanto, lançar mão de soluções que, embora transitórias, permitam ganhar tempo, e todos temos razões para crer que é isso que estão fazendo hoje os poderosos do mundo com mais responsável consciência. Fazem-no, porém, ou mediante a violentação da natureza humana, como acontece na Índia com a esterilização dos homens destinada a travar a insustentável proliferação, ou mediante graduais concessões, umas vezes à plutocracia, outras ao comunismo, segundo uma táctica de que a Igreja Católica dá o exemplo. É esta, porém, uma táctica errada e que tudo pode comprometer; utilizando-a, a Igreja mostra uma vez mais como é incapaz de compreender os «negócios do mundo». Conceder à plutocracia o reconhecimento da chamada «iniciativa privada», quando à iniciativa privada nada tem a ver com a propriedade, é comprometer a categoria fundamental para libertar o homem no sistema de carências que a economia é. Conceder depois ao comunismo «a função social da propriedade» é consagrar a ignorância de que o ciclo das categorias económicas espontânea e livremente faz da propriedade um serviço de todos e uma relação entre todos e é, em consequência, recomendar o condicionalismo social ou socialista de uma categoria que esse condicionalismo necessariamente esmagará.
As soluções a adoptar imediatamente para «ganhar tempo» deverão destinar-se a delimitar, isolar e travar o cortejo de modos de existência que, com o industrialismo, se expandem no mundo. Não o podem porém fazer nem com a violentação da natureza humana nem com concessões que só comprometem as soluções definitivas. E fora da violentação e do compromisso, resta muito de decisivo a fazer. No domínio mais geral, dever-se-á criar a consciência dos males inerentes à organização imperial dos Estados e dos povos e bem assim denunciar como o mais feroz imperialismo se esconde nas filantropias socialistas e nas liberalizações plutocráticas. No domínio aparentemente mais particularizado da produção industrial, deverá ela ser delimitada e travada tanto na via do esgotamento e destruição dos recursos naturais como na via da redução de todos os valores e interesses sociais aos valores e interesses do operariado industrial. Quanto à defesa da natureza, parece terem sido criadas espontaneamente na opinião as condições para apoiar todos os «sacrifícios» que se queiram impor à indústria, embora os governos ainda estejam longe de aceitar impor esses «sacrifícios». Quanto à subordinação de toda a existência social aos interesses do operariado, será necessário que, ao contrário do que se tem feito, se nacionalize ou estatize, não as empresas, mas o trabalho industrial. É a única solução para, ao mesmo tempo, salvaguardar a independência dos vários sectores da população e assegurar as reivindicações operárias que estarão representadas, não pelo egoísmo profissional e manipulável dos sindicatos, mas pela universalidade do Estado.
[1] A teoria das categorias económicas que a seguir resumimos expusemo-la no livro Refutação da Filosofia Triunfante (Dist. DIG — Lisboa, 1976).
Ensaio do filósofo português Orlando Vitorino (1923-2003) na revista Escola Formal, n.º 3, Agosto/Setembro de 1977.
Colaboração na transcrição: Sérgio Inácio.
Instituto +Liberdade
Em defesa da democracia-liberal.
info@maisliberdade.pt
+351 936 626 166
© Copyright 2021-2025 Instituto Mais Liberdade - Todos os direitos reservados

 About Us
About Us